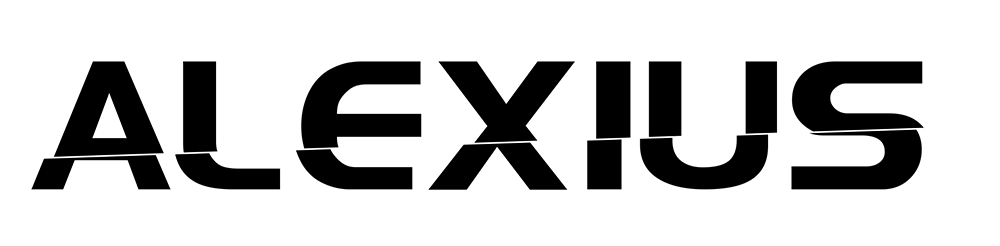Em tempos de Copa do Mundo, é natural que a gente se recorde dos grandes momentos do futebol. A imagem mais distante que consigo ter, ainda criança, foi da Copa de 1982, quando entrou em campo aquela que muitos consideram uma das melhores esquadras que já desfilaram num gramado: Zico, Sócrates, Falcão e um elenco de representantes do legítimo futebol arte.
Em tempos de Copa do Mundo, é natural que a gente se recorde dos grandes momentos do futebol. A imagem mais distante que consigo ter, ainda criança, foi da Copa de 1982, quando entrou em campo aquela que muitos consideram uma das melhores esquadras que já desfilaram num gramado: Zico, Sócrates, Falcão e um elenco de representantes do legítimo futebol arte.
Jogamos bonito como nunca, mas fomos eliminados na segunda fase por uma modorrenta Itália que vinha se arrastando em campo e empatara os três primeiros jogos. O Brasil perdeu, mas ganhou a admiração do mundo. Admiração não rende troféus, é verdade, mas rende memórias e é isso estou fazendo neste texto escrito 36 anos depois.
Lembro também de cenas mais inusitadas e constrangedoras. Como na estreia da seleção em 2002, quando o craque Rivaldo, após receber uma bolada na coxa levou a mão ao rosto em gesto exagerado, como se tivesse sofrido traumatismo craniano, forçando a expulsão de um jogador turco. As câmeras do mundo todo mostraram o teatro. Traumatismo moral. O Brasil ganhou aquele campeonato, mas Rivaldo perdeu a chance de não ser lembrado até hoje por isso.
O tema acabou ficando atual de novo, com as discussões sobre as encenações de jogadores brasileiros ao receberem faltas. Com a profusão de câmeras por todos os lados, será cada vez mais difícil fazer o teatro parecer documentário. Mas a prática está entranhada nos jogadores, como se “cavar” faltas inexistentes fosse uma habilidade desportiva como o drible ou a cabeçada.
Em que ponto da trajetória evolutiva desse esporte bretão pusemos a honestidade de escanteio? O tênis é um esporte tão inglês quanto o futebol, mas o ethos das raquetes parece um bocado diferente. Não raro, tenistas beneficiados com alguma marcação pedem a reversão do ponto em favor do adversário.
Existiria uma ética própria de cada esporte? Ou, pior, existiria um pouquinho do ethos nacional na prática do futebol?
O teatro futebolístico não é exclusividade tupiniquim. Em 1989, nas eliminatórias da Copa, o goleiro chileno Rojas se jogou no gramado após um rojão atingir a grande área, de onde saiu ensanguentado e carregado pelos companheiros no meio do primeiro tempo (quando perdiam por 1×0), pedindo a anulação da partida por falta de segurança e a eliminação do Brasil. A farsa durou pouco: as câmeras mostraram e o próprio jogador admitiu depois a encenação: o rojão caiu distante do goleiro e ele mesmo mutilou o rosto com navalhas que trouxe escondidas dentro da luva.
Mais “romântico” foi o lendário episódio protagonizado por Maradona na Copa de 1986, quando fez um gol de mão contra a Inglaterra. Questionado, ele disse que o gol não foi com a sua mão, mas com a mão de Deus. Se foi com a mão de Deus, não foi uma jogada irregular, mas sim um gol sagrado. Em 2002, a FIFA conduziu uma pesquisa e 300 mil internautas o elegeram o gol do século.
Maradona fez história, um gol de placa no mesmo jogo e a Argentina foi campeã do mundo. Na Copa de 1994, Maradona foi pego no antidoping e nunca mais a Argentina ganhou Copa alguma.
Visto sob esse prisma, o teatro dos jogadores brasileiros, parece coisa inocente, parte do folclore do futebol.
Acho que não, o mundo mudou e o futebol precisa se adaptar às mudanças do mundo, que pede mais transparência, honestidade e fair play. Ainda mais sendo o futebol um esporte de apelo mundial e tão amado por crianças. É preciso pensar no que os pequenos gestos e espertezas transmitem para bilhões de pessoas em tempo real. Craques da bola não devem ser canalhas morais. Vale qualquer coisa em nome da vitória? Vale burlar as regras? Os fins justificam os meios?
O quanto do nosso DNA cultural está expresso no jeito que a gente joga e se relaciona com o futebol?
Dizem que o futebol brasileiro tem um jeito todo próprio, difícil de imitar: é alegre, divertido, criativo, meio moleque e um bocado malandro também. O drible dos gramados seria apenas a alegoria de um povo que está sempre driblando as adversidades. Um povo bom de improviso e capenga de planejamento.
Outra característica seria a dificuldade em assumir e internalizar a derrota, sempre atribuída a algum terceiro: o treinador incompetente ou o juiz safado.
Isso pra não falar da crença num Messias que vai salvar a seleção ou o país: Neymar, Zico, Pelé ou Collor.
No final das contas, quando soa o apito final, é apenas um jogo de futebol. A camiseta canarinho é mais um adereço de carnaval que usamos para nos fantasiar de reis ou craques, onde sejamos campeões de alguma coisa, com nosso jeito tupiniquim de driblar os adversários e as dificuldades. Com uma pitada de teatro e outra de espetáculo. Uma genialidade malandra que nos rende um pouco da arte e do desastre que compõem essa colcha de retalhos que chamamos de país.
Parece apenas o futebol, mas no final das contas, é a vida também.