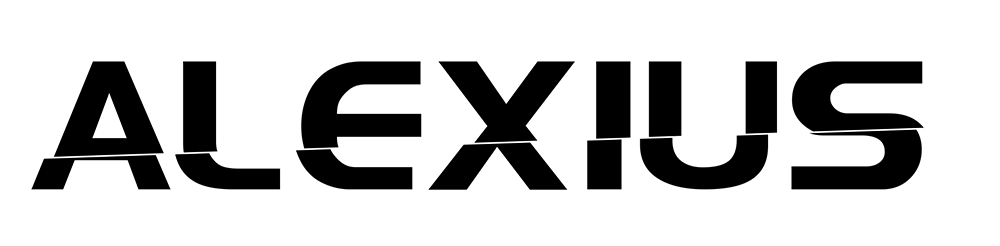Poucos dias atrás vi que as redes sociais estavam cheias de resmungos após a derrota de 1 a 0 da seleção brasileira contra o Peru. De fato, a julgar pelo quilate milionário dos nossos jogadores, seria de se esperar desempenho melhor, ainda que a partida amistosa não valha de absolutamente nada.
Curioso é que não vi menção alguma aos resultados de outra disputa internacional com relevância muito maior. Acabou de ser divulgado o ranking das melhores universidades do mundo, o Times Higher Education, que elabora anualmente a lista a partir de 13 critérios de performance, como qualidade dos professores, volume e reputação da produção científica, citações obtidas e influência internacional, dentre outros.
Sempre será possível questionar a capacidade que esses rankings possuem para medir um serviço tão complexo, multifacetado e abstrato quanto o produto educacional. De fato, há um determinado intervalo em que é quase impossível precisar o que distingue a sexta melhor universidade do mundo da sétima, ou como metrificar atributos intangíveis associados ao processo educacional.
Ressalvas feitas, é necessário reconhecer que os organizadores do ranking conseguiram desenhar uma metodologia de avaliação bastante minuciosa e abrangente, no qual você pode até discordar dos pesos atribuídos a cada critério (suficientes para provocar grandes inversões nos rankings, já que algumas instituições performam melhor em alguns atributos do que em outros), mas jamais poderá acusar o levantamento de ser superficial ou mal desenhado.
E ainda que você possa discordar, instintivamente, de uma posição ou outra (seria a sexta colocada efetivamente melhor que a sétima?), no agregado geral é quase impossível contestar o levantamento. Seria uma sandice não acreditar que as universidades que lideram o ranking, como Oxford, Cambridge, Stanford, MIT, Princeton e Harvard não sejam de fato melhores do que aquelas no pelotão das 100 melhores, que devem ser melhores do que as dos pelotões mais baixos.
E o Brasil? Do total de 1300 instituições analisadas o Brasil emplacou 46 no ranking, dez a mais que no ranking anterior, o que seria motivo de comemoração. É a visão do copo meio cheio.
O que incomoda é a faceta meio vazia do copo. A melhor Universidade brasileira é a USP, na faixa de ranking 251-300, enquanto a segunda é a UNICAMP, bem abaixo, na faixa 501-600.
Somos o quinto maior país do mundo em área, o quinto mais populoso, uma das dez maiores economias do mundo, e nossa principal ilha de excelência acadêmica está no pelotão 251-300. Seria ruim, se não fosse ainda pior, porque a USP é de fato uma “ilha” de excelência na média do ensino superior, tanto que nossa segunda colocada está no pelotão 500-600, e nossa décima colocada (Universidade Federal do Rio de Janeiro) próxima da posição 1000. Ou seja, mesmo utilizando nossa mais elitizada e vencedora régua ainda estaríamos a léguas dos nossos competidores internacionais. Sim, competidores, porque a competição pelo naco mais suculento do futuro não virá dos campos de futebol, mas dos cérebros dos cidadãos. Os países serão tão mais prósperos quanto melhor conseguirem capitanear e capitalizar o patrimônio intelectual dos seus cidadãos. E isso só se faz com educação de qualidade.
Mas calma que ainda fica pior, porque no Brasil temos uma distorção histórica terrível, que produziu centros universitários de excelência, sobretudo federais (que não por acaso se saíram muito melhor do que os congêneres privados) em detrimento de uma educação básica pública muito abaixo do sofrível. Tanto é verdade que em testes internacionais comparativos de alunos nas fases iniciais do ensino ocupamos quase sempre os últimos postos.
Não vamos jamais vencer nosso atraso econômico e social enquanto não resolvermos nosso atraso educacional. Se nossas ilhas de excelência estão assim, que lugar ocupariam as escolas públicas das crianças do ensino fundamental, Brasil afora?
Levamos um a zero do Peru, mas cá entre nós, olhando em perspectiva, isso não tem a menor importância.