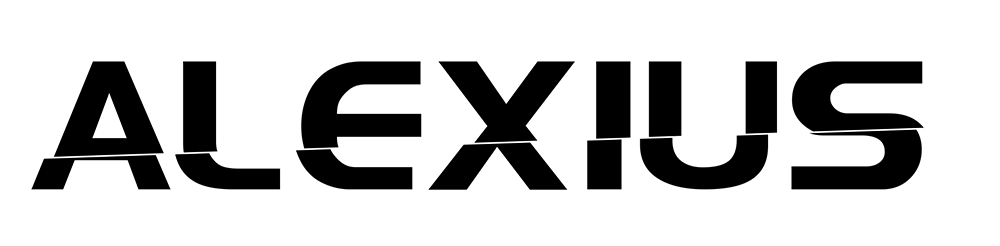Definitivamente, a primeira vez a gente não esquece. Lá se vão trinta e tantos anos, mas parece que foi anteontem. Era uma noite quente e úmida, sete ou oito da noite. Comi ali mesmo, no banco de cimento da Praça da Saudade, mãe e prima de testemunhas. Meu primeiro hotdog de rua.
Definitivamente, a primeira vez a gente não esquece. Lá se vão trinta e tantos anos, mas parece que foi anteontem. Era uma noite quente e úmida, sete ou oito da noite. Comi ali mesmo, no banco de cimento da Praça da Saudade, mãe e prima de testemunhas. Meu primeiro hotdog de rua.
Lembro daquilo como uma experiência quase transcendental, um transe gastronômico do qual não esqueci jamais. O pão fofinho, a salsicha fumegante, a maionese transbordando pelos lados, o queijo ralado e o ketchup. O ingresso para o Nirvana. Uma das mais genuínas sensações de Felicidade que já experimentei em toda minha vida. Felicidade assim ó, com F maiúsculo.
E sejamos realistas. É muito provável que fosse uma salsicha de qualidade duvidosa, uma maionese de terceira e manipulada por um vendedor que não lavou as mãos antes de me servir. Pouco importa. Nem o menu degustação do Alex Atala poderia superar o que essa experiência mundana provocou naquela criança.
Mas a gente cresce, perde a inocência, começa a entender das coisas e vai ficando cada vez mais difícil ser feliz.
Pra piorar, assisti um documentário sobre como são produzidas as salsichas. E tem ficado cada dia mais difícil saborear um legítimo lanche de rua. Agora procuro por carne Angus, queijo gorgonzola, molho honey mustard e algum ingrediente mais exótico que desafie minhas papilas pedantes. Sim, é triste admitir, estou ficando terrivelmente fresco. Tão insuportável que há dias em que me recuso a falar comigo.
Mas nem tudo se perdeu na infância. Ainda na adolescência, comprávamos vinho ruim para ouvir música boa com os amigos e nos fartávamos de Felicidade em generosas fatias, sob a luz das estrelas.
Mas como pudemos ser felizes tomando um vinho criminosamente doce, em copos plásticos, sem o equilíbrio harmônico dos taninos livres? E num ambiente repletos de mosquitos?
Não, não quero virar um chatonildo saudosista incomodado com os decênios que me batem à porta, cultuando o tempo que se foi.
Eu sei que temos que querer mais, ir adiante, que o inconformismo gera evolução. Se todo mundo estivesse feliz e acomodado com tudo, hoje eu estaria escrevendo esse texto com caneta tinteiro e à luz de velas, e amanhã iria pro trabalho de charrete. Eu sei de tudo isso. Não precisa ficar jogando na minha cara amarrotada.
Mas é preciso conciliar essa busca de “mais” com alguma forma de felicidade genuína, desconectada da grandiosidade fabricada que o marketing embala em sedutores pacotes dourados, com o qual justificamos nossa busca desenfreada por carros, bolsas, grifes, celulares e experiências grandiloqüentes, como multiatletas de uma interminável olimpíada social na qual ser feliz virou uma obrigação. Conforto material é bom e todo mundo gosta, mas quando se trata de felicidade (aquela, com F maiúsculo), é provável que você a encontre antes no frugal do que numa sacola de shopping.
Nunca entendi muito bem porque os bem nascidos europeus cultivam aquela fleuma um tanto mal humorada enquanto os povos africanos parecem ter um sorriso tatuado no rosto. Talvez seja o paradoxo do progresso. O conhecimento que nos torna melhores também nos faz mais exigentes, o que acaba por tornar mais crítica a percepção de tudo que nos rodeia.
Mas antes que eu terminasse essa malescrita crônica, eis que a epifania acontece: a cortina se alvoroça como o vestido da Marilyn e o vento invade a sala como um velho conhecido que dispensa convite. E então lembro que desde criança vento na cara me deixa feliz. Talvez porque me remeta a férias na praia ou meus primeiros passeios de bicicleta. Talvez porque eu seja bobo, simples assim. Então, mando tudo às favas, fecho os olhos, deixo o vento lamber minha fuça como um bulldog de estimação, e descubro que nem tudo está perdido. Apesar de toda minha rabugice, e da pretensiosa busca por um ideal sofisticado de realização, ainda é possível ser Feliz com muito pouco.
E com F maiúsculo.