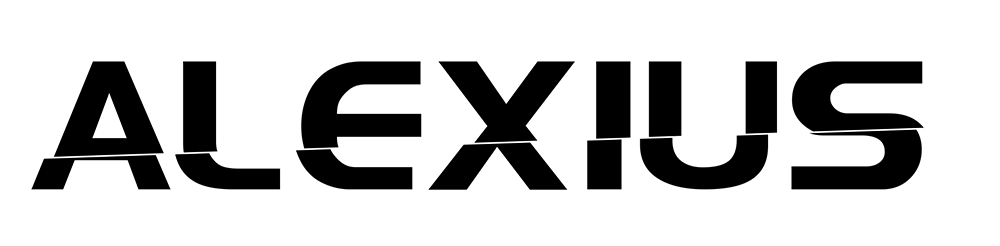Era uma rua estreita que eu deveria cruzar, mas o semáforo de pedestres estava vermelho. Rastreei ao longe a faixa de asfalto e não havia qualquer sinal de carro no horizonte. Como parecia seguro atravessar, assim o fiz.
Era uma rua estreita que eu deveria cruzar, mas o semáforo de pedestres estava vermelho. Rastreei ao longe a faixa de asfalto e não havia qualquer sinal de carro no horizonte. Como parecia seguro atravessar, assim o fiz.
Mas não pude deixar de perceber o olhar de soslaio que me lançou a moça ao lado, impassível à espera do sinal verde.
Duas ruas à frente repeti a mesma operação e recebi de volta uma variante do mesmo olhar, agora de um vetusto senhor com terno cinza fedendo naftalina.
Estava em Viena, na Áustria, a trabalho, e de algum modo aqueles olhares discretos e ferinos me perturbaram o resto do dia. Um senso de inadequação me inundou. Não sentia ter feito nada errado, mas estava bastante incomodado, sem saber muito bem porque. Aqueles olhares furtivos tiveram um efeito estranho em mim, me senti humilhado, feito um bárbaro comendo frango com as mãos sujas e besuntadas de gordura no luxo silencioso de um palácio ao qual não fui convidado.
Fiquei pensando no meu ato. Olhei atentamente para a rua, não havia nenhuma chance de vir nenhum carro. Não prejudiquei ninguém nem expus a risco nem a mim nem a nenhum motorista ou pedestre. E ainda ganhei uns quarenta segundos. Num raciocínio utilitarista, os benefícios parecem muito superiores aos danos. Aliás, nem fui capaz de perceber “danos”.
Só no final da noite começou a cair a ficha! Era um dano muito sutil, invisível, que fui incapaz de perceber.
Quais os limites da arbitrariedade nas escolhas individuais? Não tinha nenhum carro no horizonte e então me senti no direito de ultrapassar o sinal vermelho. E se o carro estivesse a 400 metros? Provavelmente seguro. E se estivesse a 100 metros? A partir do momento que abandono a regra objetiva (o sinal, verde ou vermelho), quais os parâmetros do certo ou errado?
E se os motoristas seguissem a mesma lógica? Ultrapassando o sinal vermelho toda vez que parecesse razoavelmente seguro que não haveria pedestres atravessando a faixa?
No limite, a decisão conforme nossas réguas pessoais de conveniência, acaba instaurando o caos.
Recentemente viajei ao Marrocos, e na primeira rua que ousei atravessar em Casablanca, um carro quase me atropelou com o sinal verde de pedestres aceso. Mal me recuperei do susto e outro carro fez o mesmo. Parecia uma espécie de boliche, onde o carro era a bola e eu o pino a ser derrubado. Graças a Deus consegui atravessar a rua antes do strike fatal.
Dez minutos depois, após adiar a visita a uma Medina, enfrentei novo desafio da travessia, e descobri espantado que os pedestres também não respeitavam semáforos e zigzagueavam destemidos pelo meio de carros, motos e ônibus, com sacolas de compra ou bebês a tiracolo. Uma selva, um salve-se quem puder generalizado, no meio de buzinas e fumaça de óleo diesel.
Pouco tempo depois, desenvolvi meu próprio método de atravessar ruas em Casablanca. Me posicionava para trás da faixa de pedestres, e só atravessava depois que alguns locais iam na frente, assim conseguia aumentar minhas chances de êxito, e ainda obtinha uma barreira humana preliminar antes do grande boliche automobilístico me atingir num strike fatal.
Virei parte do sistema. Logo estava me comportando com a mesma lógica dos intrépidos pedestres daquela cidade.
E foi impossível não lembrar de Viena. E não fazer um paralelo com um monte de coisa no Brasil, mas isso é tema que só caberia num outro artigo, ou quem sabe num tratado antropológico.
Aquela tarde em Viena valeu por uma pós graduação em cidadania e ética.