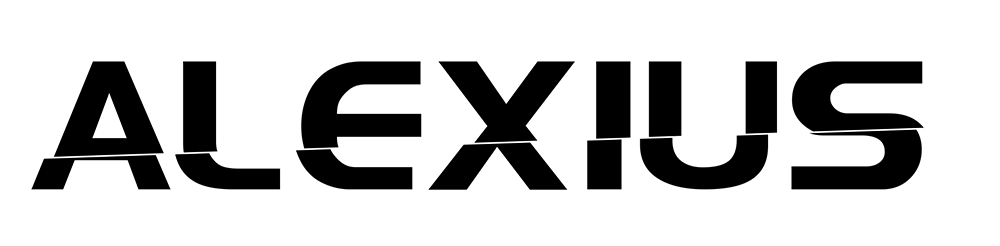Em novembro do ano passado, folheando o jornal americano USA Today (o líder de circulação impressa nos Estados Unidos, com cerca de 2 milhões de exemplares diários), tive a oportunidade de testemunhar um anúncio um tanto quanto incomum, pelo menos para os padrões brasileiros. Um anúncio colorido de ¼ de página de um fabricante de armas, rifles e pistolas. Não bastasse o inusitado do anunciante (num país com um histórico tão grande e traumático de massacres em escolas e locais públicos), a propaganda trazia em destaque uma mão sob uma bíblia, como que a representar um suposto juramento, seguida de fotos de suas diversas armas.
Em novembro do ano passado, folheando o jornal americano USA Today (o líder de circulação impressa nos Estados Unidos, com cerca de 2 milhões de exemplares diários), tive a oportunidade de testemunhar um anúncio um tanto quanto incomum, pelo menos para os padrões brasileiros. Um anúncio colorido de ¼ de página de um fabricante de armas, rifles e pistolas. Não bastasse o inusitado do anunciante (num país com um histórico tão grande e traumático de massacres em escolas e locais públicos), a propaganda trazia em destaque uma mão sob uma bíblia, como que a representar um suposto juramento, seguida de fotos de suas diversas armas.
Apesar da tônica do anúncio ser o orgulho de ser um produto 100% fabricado nos Estados Unidos, é impossível ignorar toda uma miríade de aspectos que esse simples anúncio suscita, o que justificaria sozinho uma tese sociológica, o que não faço um pouco por falta de espaço e muito por incompetência sociológica pura.
Primeiramente, emerge uma questão cultural, dos valores de cada sociedade. Nos EUA, um anúncio ou reportagem com mulheres semi-nuas chocaria os mais pudicos, enquanto no Brasil tais exemplos abundam, das loiras turbinadas de comerciais de cervejas às mulatas de curvas generosas e trajes diminutos (quanto existentes) nos desfiles da Sapucaí. Uma charge jocosa a respeito do profeta Maomé num inexpressivo periódico escandinavo gerou uma onda de protestos (além de atentados e mortes) por todo o mundo árabe. Em terras nipônicas, corrupção é sempre um tema de obscenidade máxima.
O fato é que no Brasil seria impensável um anúncio de um fabricante de armas num periódico de grande circulação (acredito até que haja proibição legal a esse tipo de anúncio), e mais improvável ainda que o mesmo viesse chancelado por uma bíblia.
Podemos perceber também um traço xenófobo no argumento do anúncio, o de que produtos feitos nos Estados Unidos (e o texto era farto em ilustrar as diferentes cidades americanas em que são arregimentadas as diversas matérias primas) são melhores do que os fabricados em outros países. “Todo rifle Henry é, e sempre será, feito nos Estados Unidos, por trabalhadores americanos. Pessoas decentes, que trabalham duro como você, e que têm grande orgulho pelo que fazem”. Fica evidente que as recentes crises no país, e o incômodo causado pelo crescente uso do outsourcing (fabricação de produtos em países de mão de obra mais barata, principalmente asiáticos e emergentes) são alguns dos catalisadores desse argumento. Enquanto há emprego e prosperidade, é ótimo que tenhamos mexicanos para nos atender nas cadeias de Fast Food, e chineses a nos fornecer quinquilharias a preços irrisórios; mas quando a crise bate e o emprego some, setores mais radicais da sociedade começam a demandar os empregos de volta e a exacerbar esses traços de nacionalismo. A própria Europa, também imersa numa crise econômica, mais aguda que a americana e sem prazo de validade, tem visto a escalada de políticos de extrema direita, com discursos mais ácidos e xenófobos.
Há ainda a questão dos limites da publicidade. Até onde é possível ou aceitável ir, em nome da venda de bens, produtos e serviços? A Comunicação é uma indústria forte e importante, que gera receitas, riquezas e empregos. Proporciona informação e entretenimento, mas que como qualquer ramo de atividade, tem suas responsabilidades e limites éticos. Até onde podemos ir no afã de vender? Quais os cuidados na publicidade de produtos “polêmicos”, como armas, bebidas, remédios ou cigarros? E quanto a públicos com menor poder de defesa, como as crianças?
E por fim há o contexto americano em que o anúncio se insere. “Nós fabricamos rifles que você terá orgulho em possuir”. É quase surreal a frase, para não dizer de mau gosto, num país que tão frequentemente é chacoalhado por tragédias brutais, de crianças assassinadas por jovens em posse de um rifle ou pistola, feitas ou não nos Estados Unidos. É difícil imaginar de onde pode derivar o orgulho de possuir um artefato que tanto trauma tem causado no país. Poucas semanas depois desse anúncio (e devem ter se seguido outros anúncios que não testemunhei, já que minha leitura desse jornal foi fortuita) mais uma tragédia do gênero abalou o país. Ryan Lanza, um jovem de 24 anos, de posse de 2 armas num fatídico 14 de dezembro, matou 26 pessoas, a maioria crianças, e até mesmo seus pais. Não foi o primeiro episódio do tipo, e existe o risco de que não seja o último. Mas pelo menos dessa vez, a tragédia parece ter proporcionado um debate mais amplo a respeito do controle da posse de armas no país, e de restrições ao seu uso.
Imagino que a cultura americana do culto ao sucesso, da livre iniciativa e da competição, seja capaz de produzir muitos avanços, desenvolvimento técnico e progresso econômico, mas é possível que traga como subproduto, ainda que em escala menor, frustração, bullying e manifestações sociopatas de diversos matizes.
Como pano de fundo disso tudo está um dos princípios mais caros e valorizados pela cultura americana: a liberdade, em todas as derivações que isso possa se materializar, como democracia, liberdade de imprensa, liberdade de empreender e livre mercado. A liberdade é cultuada quase como um direito sagrado daquela cultura. Mas há um equilíbrio tênue, e cada vez mais difícil de obter, entre liberdade e segurança. Quanto mais liberdade, menos segurança; quanto mais segurança, menos liberdade. Parte desses ideais de liberdade plena já foram dizimados depois dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. A liberdade de ir e vir já está mais tolhida, os aeroportos se tornaram trincheiras; e a privacidade nas comunicações há muito está limitada, pelo constante rastreamento e interceptação de mensagens em nome da segurança nacional, como provou o recente escândalo do governo Obama, que admitiu monitorar ligações telefônicas e mensagens eletrônicas de zilhões de pessoas.
Parece cada vez mais evidente que existem inimigos mais perigosos que os do mundo árabe, e precisam ser combatidos. Mais do que em nome do Orgulho Americano, em nome do sagrado direito à vida.