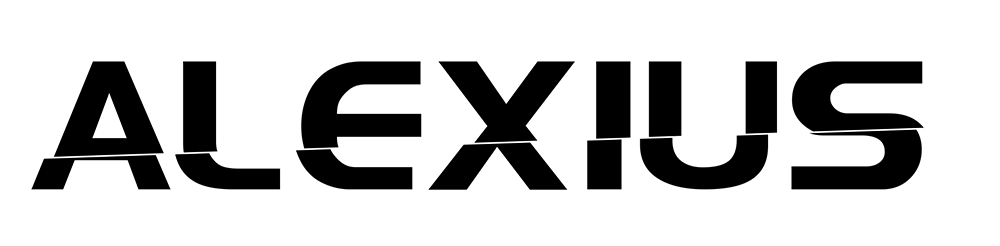Dia desses fui a um velório.
É estranho o ritual social da morte. Nunca consigo ficar confortável, não importa o quão distante emocionalmente possa eu ser do dito cujo. São sempre ocasiões sinistras, ameaçadoras, não sei como me comportar.
E tudo conspira para que as coisas fiquem ainda mais embaraçosas. As pessoas me cumprimentam com o clássico, ‘e aí, tudo bem?’ E eu fico me perguntando o que devo dizer. Digo que ‘tudo ótimo’, como conviria responder em conversas incipientes de corredor? Ou seria isso um desrespeito com aquele corpo roxo estendido inerte à minha frente e com a família chorando ao lado? Digo que ‘está tudo péssimo’ porque o querido fulano morreu, constrangendo desta vez tanto o interlocutor quanto a mim mesmo, com a insincera demonstração nostálgica?
Ante a ignorância de modus operandi, acabo emitindo algum grunhido ininteligível e um gestual contido que não quer dizer absolutamente nada. Tem dado certo.
Entro no recinto, muita gente, muitos conhecidos. A sociedade em peso. Todos conversam. Um fala sobre o jogo de futebol da véspera, outro revê o amigo que há muito mudou da cidade, e o roliço corretor fala sobre um novo loteamento que estão lançando.
Chego no centro do salão. Tá lá o homem estendido no caixão. Pele esticada, corpo inchado, rosto levemente deformado. Um homem poderoso, que no seu tempo comandava um exército de subordinados, agora ali, mortinho da Silva, gelado sob a quente tarde de outono. Tenho certeza que isso tem algum significado metafísico ou alguma transcendência teosófica, mas simplesmente não consigo formular nenhum raciocínio ou tese que faça sentido. Falência léxica. Fico então apenas olhando para aquele rosto lilás contrastando com as flores amarelas que o emolduram. Bate um vento no fino véu que cobre o defunto, e por um instante eu acho que vi o sujeito se mexer. Loucura, defuntos não se movem, mas fico imaginando como seria se ele se mexesse, um movimento involuntário qualquer, um micro ajuste biofísico, um pum, qualquer coisa.
Devagar, começo a divagar. Lembro que sobrou strogonoff do almoço e que preciso comprar batata palha antes de voltar para casa.
Entro na longa fila para cumprimentar a viúva e os filhos, cumprindo o ritual que me cabe. Quase não sei o que falar, e então entôo palavras de ordem previsíveis. Solto “condolências”, “meus sentimentos”, e “força e fé neste momento difícil”, morto de medo de tentar ser mais criativo e cometer alguma gafe tetrificante que faça a viúva desabar num choro ainda mais histérico. Sempre fui estabanado com as pernas e as palavras, aquelas mais que estas.
Volto às várias rodinhas que se formam. Noto a ausência de crianças e jovens. Tá certo, temos que poupá-las do deplorável espetáculo da morte, protegidas temporariamente que estão da inexorável decadência do corpo. De alguma forma, me parece que as risadas se sobrepõem aos lamúrios. Tudo se parece com um evento estranhamente social. Passo de relance pelo corretor de imóveis, e juro por Deus que acho que o ouvi fechando negócio com um dentista. Dois lotes de 6 por 25. Não ouço o valor, por mais que tenha desacelerado os passos naquele momento.
Traço o perfil sócio-demográfico dos presentes. Muitos amigos do saudoso empresário. Imagino como deve ser difícil esse testemunho ocular do fim de seus contemporâneos. A partida dos seus colegas deve dar algum incômodo recado matemático.
– Já foi o Abelardo, o Juarez, a Selma, o Tonho, a Celinha…
Como deve ser a descoberta de ser o último maracujá do pacote de tão longínqua safra? Terrível, me parece. Mas curiosamente é esse grupo de contemporâneos o que conversa mais animadamente, o que mostra o quanto eu não entendo lhufas da vida nem da morte, e que talvez precise frequentar mais funerais.
E então me lembro da Dona Maria, saudosa octogenária vizinha de minha mãe, que quando alguém lhe aparecia com a notícia de uma morte, invariavelmente reagia do mesmo modo.
– Dona Maria, a senhora não sabe quem morreu. O Alceu…
– O Alceu? Antes ele do que eu !