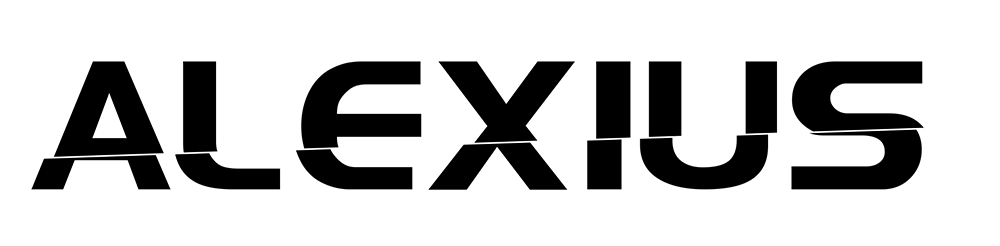As horas passaram insuportavelmente lentas naquela manhã de segunda-feira, receosas de chegar. Uma forma de prenúncio, que minha imaturidade não permitiu captar.
As horas passaram insuportavelmente lentas naquela manhã de segunda-feira, receosas de chegar. Uma forma de prenúncio, que minha imaturidade não permitiu captar.
Tomei um banho felino e até tentei pentear o indomável topete. Vesti short azul, camiseta amarela e meu surrado ki-chute preto sobre as curtas meias brancas que mal escondiam na esquelética canela o purpúreo hematoma, obtido na pelada de domingo que eu, terceiro melhor goleiro de todo o quarteirão, orgulhosamente ostentava.
Caprichosas bandeirinhas de papel de seda enfeitavam a sala. Tudo lindamente ornamentado para o mais triste luto que aquela casa um dia testemunharia.
Na sala, a família reunida para o almoço, calma e confiante, como conviria a um exército de gladiadores antes de enfrentar um famélico pelotão de desarmados.
O Brasil tinha uma das melhores seleções de todos os tempos. Zico, Sócrates, Falcão e Júnior formavam a maior concentração de genialidade por metro quadrado que um dia uma equipe ousou desfilar pelos gramados deste planeta azul (o azul, sempre ele). Sambistas do jazz, improvisando toques, reinventando o implausível.
O adversário, uma desacreditada Itália, que na primeira fase conseguira a proeza de não ganhar de ninguém, empatando todos os 3 jogos contra seleções sofríveis.
Mas o impossível se fez. A maior seleção do mundo, representante suprema do futebol-arte verde e amarelo, destroçada pela eficiência monocromática italiana. Tristeza e luto em tons de azul. A beleza errática do futebol se impondo, soberana.
Porque quando o futebol se propõe a ser arte é demais exigir que a lógica prevaleça. A lógica é da natureza das equações e das ciências exatas. A arte é afeita ao inusitado, ao surpreendente, ao torto e assimétrico. Como o nariz cubista de um quadro de Picasso. Tão genial quanto inverossímil. Torto, como o inexplicável passe do Toninho Cerezzo que resultou no segundo gol da Itália.
Nunca me esquecerei, na história de minhas rotinas tão fatigadas, daquele 05 de julho de 1982, quando a maior seleção que um dia eu já vi jogar perdeu de 3 a 2 para a Itália. Do alto dos meus 11 anos, aquele episódio foi um rito de passagem da infância para a adolescência. O prenúncio do que a vida é capaz de oferecer em sua selvageria lírica. Falibilidade, ressurreição, imprevisibilidade, caos e beleza. A mortalidade dos super heróis.
Um aperitivo para o que viria a ser os anos 80, não por acaso apelidado de década perdida. Ainda perderíamos a votação das Diretas Já, Tancredo Neves, as economias, e a esperança no Brasil, após sucessivos malogros econômicos. Tinha que dar certo, mas não deu. Pelo menos restava ainda um pouco de rock para embalar as noites de sábado e algumas lufadas de liberdade pós-ditadura militar.
O trauma nacional com esse jogo serviu também para implodir a crença no futebol arte. Logo veríamos a ascensão do chamado futebol pragmático, uma lazarenta combinação do pior de 2 mundos: futebol feio com derrota, tudo embalado no mesmo intragável pacote. Ao matar o futebol arte, matamos a gênese do nosso próprio futebol, moleque, matreiro, inventivo. E desonramos a herança que nos deixaram Garrinchas e Pelés.
Só veria meu primeiro título de campeão mundial na copa de 94, justamente contra a Itália. Sintomático que tenhamos vencido aquela copa num zero a zero, 120 minutos do mais absoluto nada, tendo como desfecho apoteótico um “não-gol”, no antológico pênalti por sobre o travessão desperdiçado pelo craque Roberto Baggio. Até trocamos o clássico bordão “É gooooool do Brasil” pelo angustiante “Vai

que é tua Taffarel”.
Certos episódios precisam de um distanciamento histórico para serem melhor compreendidos. Apesar da singular alegria com a Copa de 94, e do meio oceano vertido em lágrimas com a derrota para a Itália, hoje, quando penso em futebol bonito, o que me vem à mente é aquela seleção de 82, que não conquistou a Copa, mas conquistou um pedaço eterno do meu coração de criança e da minha alma de brasileiro.